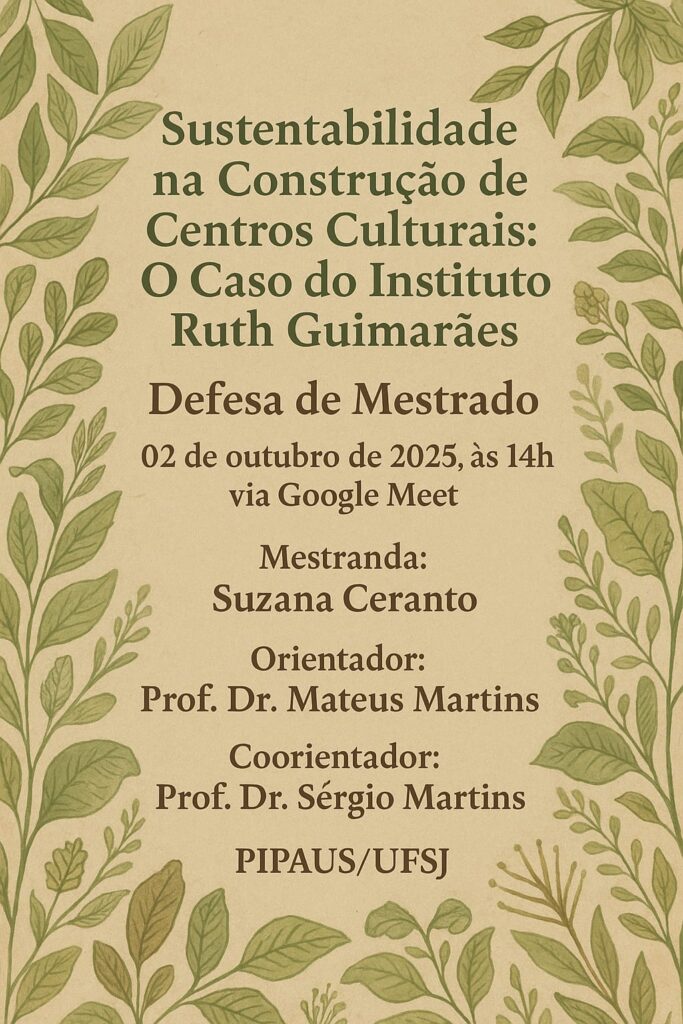Instituto Ruth Guimarães, Ponto de Cultura!
https://culturaviva.cultura.gov.br/certificado/34997/
Cachoeira Paulista tem um Ponto de Cultura, o Instituto Ruth Guimarães, estabelecido desde 2023. Ponto e Pontão de Cultura são iniciativas que fazem parte da Política Nacional de Cultura Viva, criada pelo Ministério da Cultura (MinC) e regulamentada em 2015 pela Lei Cultura Viva.
Os Pontos de Cultura são entidades sem fins lucrativos, grupos ou coletivos — com ou sem CNPJ — que desenvolvem atividades culturais contínuas em suas comunidades. Já os Pontões de Cultura exercem função articuladora: são entidades culturais ou instituições públicas de ensino que coordenam e fortalecem redes de Pontos e outras iniciativas culturais, promovendo mobilização, formação e intercâmbio.
Desde a regulamentação da lei, grupos e instituições podem se autodeclarar como Ponto ou Pontão de Cultura por meio de certificação simplificada. A certificação não garante repasse automático de recursos, mas funciona como reconhecimento institucional e facilita o acesso a editais e parcerias. Quando selecionados em chamadas públicas, podem firmar parceria com o poder público por meio do Termo de Compromisso Cultural (TCC), mecanismo que simplificou os processos de prestação de contas.
Atualmente, a política reúne mais de 4,5 mil iniciativas em mais de mil municípios do Brasil, alcançando cerca de 8 milhões de pessoas, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A atuação é diversa e abrange cultura popular, indígena, quilombola, cultura digital, produção urbana e periférica, entre outras expressões artísticas e culturais.
O Instituto Ruth Guimarães nasceu em 2018, com o objetivo não somente de propagar a obra da escritora e do fotógrafo Zizinho Botelho, mas também de oferecer à comunidade um espaço para mostrar suas manifestações culturais. A cidade de Cachoeira Paulista está carente de espaços culturais: o teatro municipal está em reforma, sem data de reabertura, a estação ferroviária foi tombada, mas vândalos estão saqueando tudo o que podem, o ginásio municipal que já foi usado como palco de festivais de dança, de música, hoje ali só podem ser realizados eventos estritamente ligados ao esporte, o auditório está abandonado e não há perspectivas de realização de reformas. Somente o que resta são as praças, mal conservadas e mal frequentadas. O Instituto Ruth Guimarães se esforça para oferecer cultura o ano todo, apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, sem recursos financeiros para o básico.
O Fórum Nacional de Pontos e Pontões de Cultura é um espaço fundamental de participação social e articulação política da Política Nacional de Cultura Viva, reunindo coletivos para construir diretrizes, compartilhar experiências e fortalecer a rede em todo o Brasil. Esses encontros, organizados em instâncias municipais, estaduais e nacionais, são cruciais para a democracia cultural e incidência em políticas públicas.
O Instituto Ruth Guimarães vai participar do 4ª Fórum Paulista dos Pontos de Cultura, o maior e mais importante encontro da rede de Pontos e Pontões de Cultura do Estado de São Paulo. Nesta edição de 2026, tem como tema: Cultura Viva Tecendo o Bem Viver. O Fórum acontecerá de 26 de fevereiro a 1º de março, em Campinas, reunindo iniciativas culturais de todo o estado para encontros, fórum, debates, formações, vivências, articulações e mostra artística da Política Nacional Cultura Viva no Estado de São Paulo.
O Instituto Ruth Guimarães participa para se atualizar e se engajar com mais responsabilidade e mais eficácia nos seus propósitos de ser um centro cultural ativo em sua comunidade.